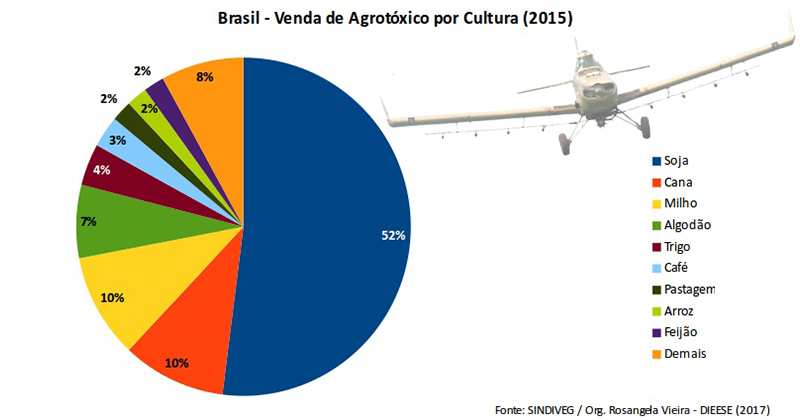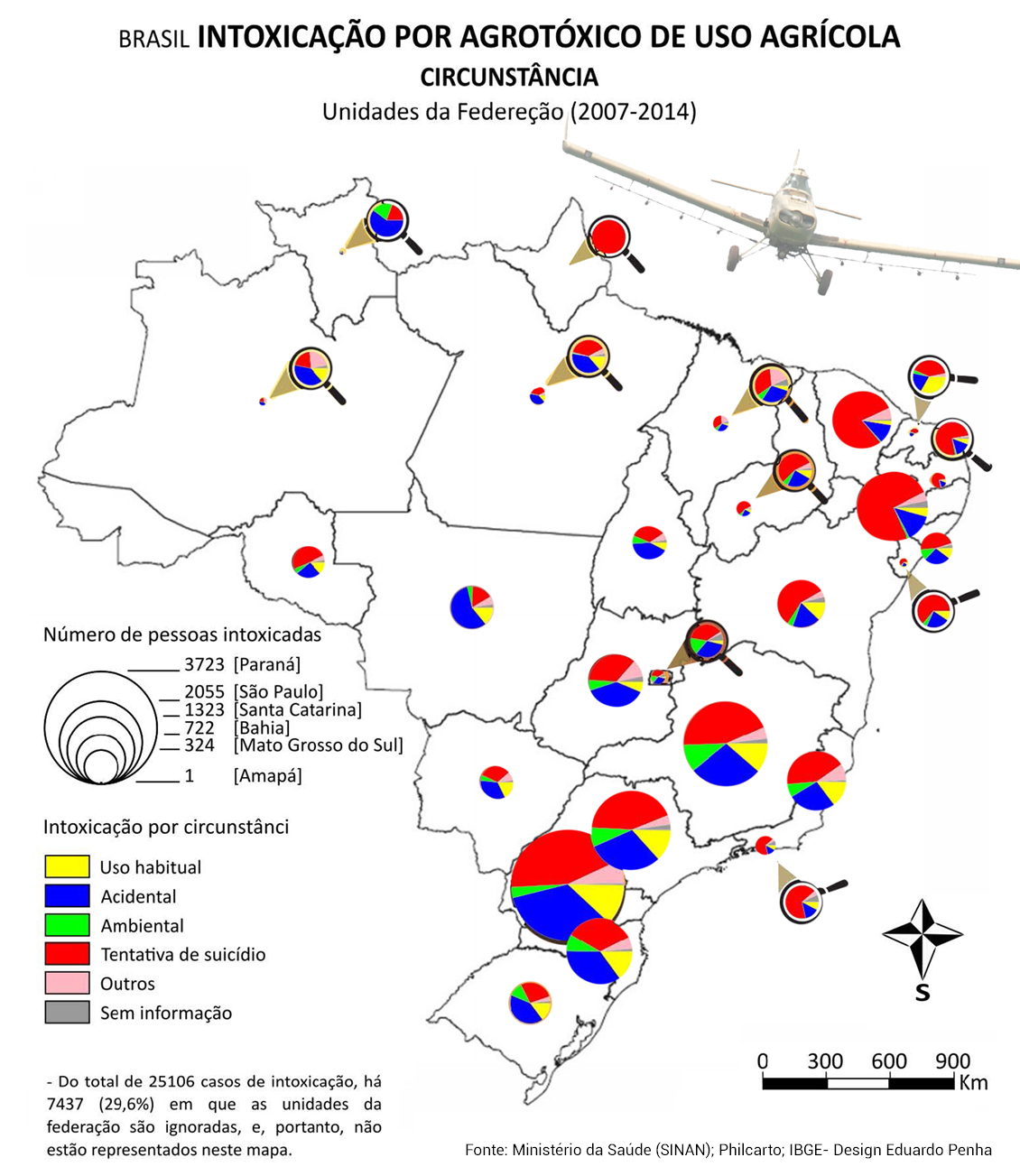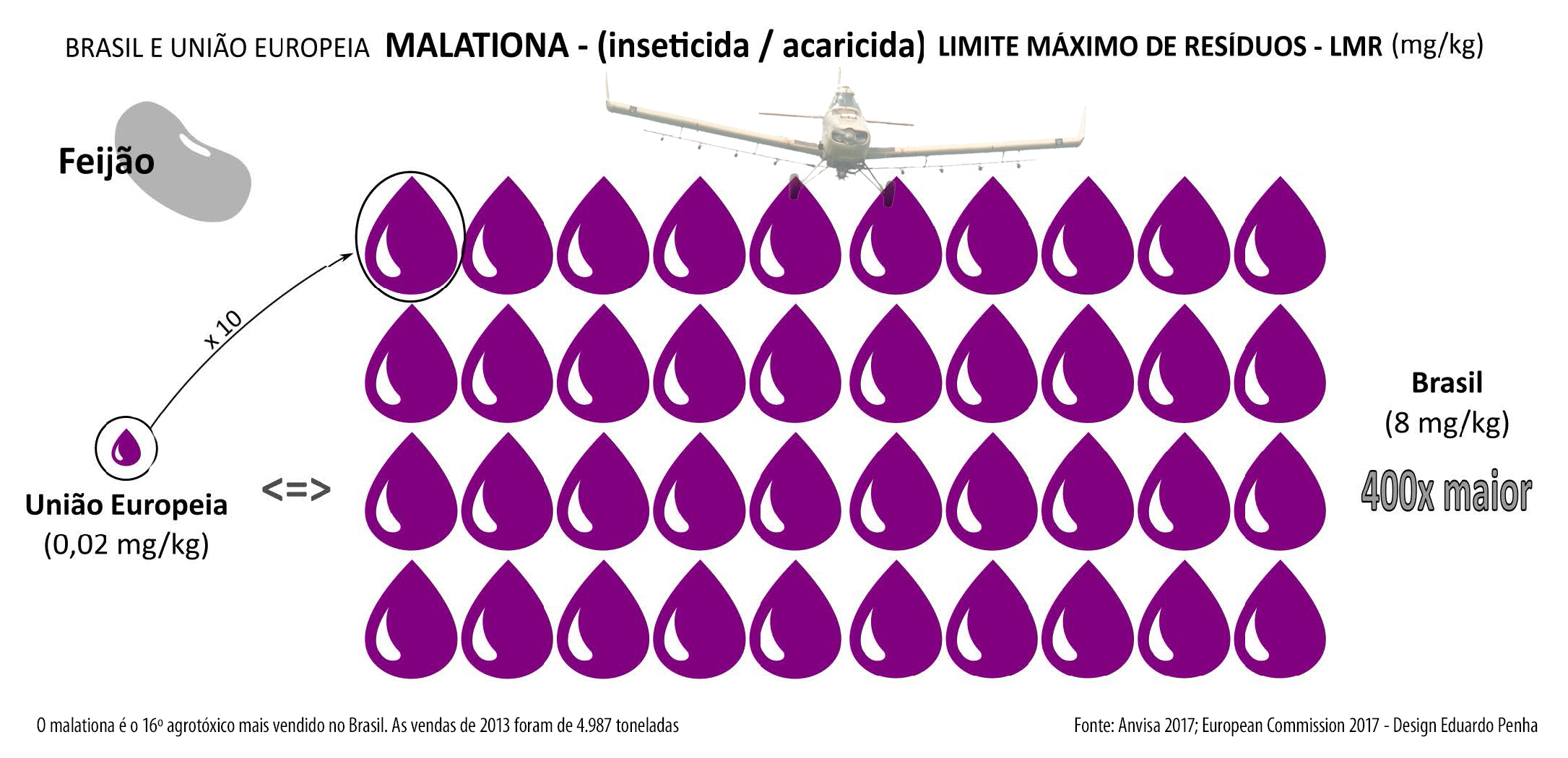Felipe A. P. L. Costa
Examinando as terras emersas mais de perto, é possível observar certas afinidades entre blocos de vegetação descontínuos, presentes em continentes diferentes.
Vista do espaço, a Terra é uma bolinha azul. A cor azul reflete o fato de que 75% da superfície do planeta estão cobertos pelos oceanos. Outras porções da Terra exibem outras colorações, principalmente tons esverdeados (florestas fechadas), amarronzados (desertos, áreas desflorestadas ou de vegetação rarefeita) ou esbranquiçados (calotas polares e topos de montanhas, ameaçados hoje de derretimento).
Examinando as terras emersas mais de perto, é possível observar certas afinidades entre blocos de vegetação descontínuos, presentes em continentes diferentes. A cada um desses conjuntos daremos aqui o nome de bioma. No caso das terras emersas, o termo pode ser aplicado a um tipo característico de paisagem, ocupando uma área geográfica relativamente extensa e descontínua, quase sempre envolvendo dois ou mais continentes.
O conceito de bioma – do grego, bi(o)-, vida + –oma, agrupamento, massa – foi apresentado publicamente pelo biólogo estadunidense Frederic [Edward] Clements (1874-1945), em um encontro científico ocorrido em 1916. O ponto de partida de tal elaboração foi a noção de que plantas e animais são elementos essenciais em virtualmente todas as grandes comunidades do mundo.
Embora o significado original levasse em conta a composição de espécies, o termo mais tarde passou a ser usado tão somente em alusão à fisionomia da paisagem – i.e., como um substituto mais amplo para outras expressões, como formação ou fitofisionomia.
Em 1939, o conceito de bioma apareceu pela primeira vez em um livro-texto (Clements & Shelford 1939). Curiosamente, porém, a palavra não foi incluída na extensa lista de termos (e.g., formação, associação, consórcio, sociedade, família, colônia etc.) apresentados e definidos em uma obra publicada apenas um ano antes (Weaver & Clements 1938).
A interface clima/vegetação
O clima de uma região é muito influenciado pela sua latitude. O que ajuda a explicar por que os grandes padrões climáticos tendem a se distribuir em faixas latitudinais ao redor do planeta.
A vegetação de um lugar é muito influenciada pelo clima. Sendo assim, deveríamos igualmente detectar padrões latitudinais na distribuição da vegetação. E é justamente isso o que ocorre [1].
A vegetação que prospera nas proximidades da linha do equador, por exemplo, tende a exibir certas características que definem um tipo comum de paisagem, quer estejamos na América Central ou do Sul, na África, na Ásia ou na Austrália. Tal similaridade é o resultado de um fenômeno mais geral chamado evolução convergente [2].
O que ocorre é que linhagens de plantas que vivem sob circunstâncias ecológicas semelhantes (e.g., grau de insolação e regime de chuvas) tendem a desenvolver soluções igualmente semelhantes, o que muitas vezes se reflete em uma mesma conformação geral do corpo ou em comportamentos bem parecidos.
Em regiões de clima quente e úmido, por exemplo, predominam árvores de grande porte, cujas folhas são largas e duradouras. Se o clima é quente e seco, passam a predominar plantas de porte mais baixo, armazenadoras de água e cujas folhas tendem a ser diminutas e decíduas. Padrões característicos correspondentes podem ser igualmente identificados em plantas que prosperam em regiões de clima frio e úmido ou frio e seco. E assim por diante.
Tais paralelismos ajudam a explicar as espantosas coincidências entre os mapas de clima e os de vegetação, a tal ponto que é possível prever a presença de um sabendo apenas da presença do outro.
Dicotomias básicas e o número de biomas
Os biomas de terra firme costumam ser definidos em razão do aspecto geral da vegetação dominante, não importando a composição de suas biotas. A fitofisionomia, por sua vez, varia de acordo com a abundância relativa de diferentes formas de vida. Vejamos.
Levando em conta a dicotomia árvore perene v. erva anual, nós podemos identificar três fisionomias básicas [3], a saber: (1) florestas, quando há um predomínio de plantas arbóreas; (2) campos, quando predominam as plantas herbáceas; e (3) savanas, quando árvores e ervas são codominantes.
O aspecto da vegetação de um lugar reflete, entre outras coisas, as dimensões e o comportamento da superfície fotossinteticamente ativa (folhas, habitualmente). No primeiro caso, uma distinção fundamental costuma ser feita entre as plantas que sustentam folhas largas (plantas latifoliadas, quase todas angiospermas) e as que sustentam folhas estreitas (p. de folhas aciculares, muitas das quais são gimnospermas). No segundo, é costume distinguir entre as plantas que nunca ficam desfolhadas por abscisão (plantas sempre verdes ou perenifólias) e aquelas que ficam sem folhas em alguma época particular do ano (p. de folhas decíduas ou caducifólias).
*
FIGURA. A figura que acompanha este artigo (extraída de Givnish 2002) chama a atenção para dois padrões fisionômicos. Os percentuais de terra firme cobertos (originalmente) por árvores sempre verdes (folhas largas ou aciculares) (A) e por árvores decíduas (B). Note que as sempre verdes tendem a dominar em duas faixas latitudinais: nas proximidades do equador (florestas latifoliadas) e nas do círculo polar ártico (florestas boreais). As decíduas tendem a prosperar em regiões de relevo montanhoso ou no interior dos continentes, em diferentes latitudes.
*
Com base nessas dicotomias, é possível arranjar a vegetação das terras emersas em sete biomas [4]. São eles: (1) floresta ombrófila (vegetação arbórea, latifoliada e sempre verde); (2) f. caducifólia (idem, idem, mas decídua); (3) f. boreal (v. arbórea e sempre verde, mas com folhas aciculares); (4) savana (v. herbácea, mas entremeada por árvores isoladas ou agrupamentos de árvores); (5) campo (v. herbácea, formando um estrato contínuo); (6) tundra (idem, mas sem formar um estrato contínuo); e (7) deserto (v. escassa, efêmera ou inexistente).
No que segue (A-G), listo algumas particularidades de cada um deles.
A. Floresta ombrófila
A floresta ombrófila (= floresta pluvial, floresta úmida ou floresta tropical) é caracterizada pela presença de vegetação arbórea, latifoliada e sempre verde.
Os climas sob o qual esse bioma prospera são predominantemente quentes e úmidos. A temperatura média anual é sempre igual ou superior a 18° C. A pluviosidade anual costuma ser superior a 1.500 mm. As médias mensais variam pouco ao longo do ano, sobretudo as de temperatura. A depender do grau de sazonalidade no regime de chuvas, algumas árvores podem perder suas folhas na época mais seca do ano.
Tais condições climáticas caracterizam três regiões do planeta (situadas em sua maior parte no hemisfério Sul): (a) a bacia amazônica, com áreas adicionais na América Central, e a borda oriental do Brasil; (b) a bacia do rio Congo e Madagascar, na África; e (c) o Sudeste da Ásia, parte do Nordeste da Austrália e mais as ilhas entre a Ásia e a Austrália (incluindo Nova Guiné e Bornéu).
B. Floresta caducifólia
A floresta caducifólia (= floresta decídua) é caracterizada pela presença de vegetação arbórea, com folhas largas (latifoliadas) e decíduas. Durante uma determinada época do ano, portanto, todas ou quase todas as árvores perdem suas folhas.
Os climas sob o qual esse bioma prospera são em geral moderados. A temperatura média anual é sempre inferior a 18° C. A pluviosidade anual gira em torno de 1.000 mm. As médias mensais variam muito ao longo do ano, com verões amenos e invernos frios, durante os quais a água congela. Dependendo do rigor e da extensão do inverno, as árvores podem permanecer mais ou menos tempo desprovidas de folhas.
Essas condições climáticas caracterizam três grandes regiões do planeta: (a) a borda oriental da América do Norte (EUA e Canadá); (b) quase toda a Europa e parte do Noroeste da Ásia (incluindo partes da Rússia e da China); e (c) parte da borda oriental da Ásia, incluindo o Japão e ilhas próximas.
C. Floresta boreal
A floresta boreal (= floresta de coníferas ou taiga) é caracterizada pela presença de vegetação constituída por árvores sempre verdes e com folhas aciculares.
Os climas sob os quais esse bioma prospera são frios ou gelados e relativamente secos. A temperatura média anual varia entre -5 e 5° C. A pluviosidade anual em geral é inferior a 700 mm. As médias mensais variam muito ao longo do ano – invernos rigorosos alternam com verões relativamente brandos. Embora o volume de chuvas seja modesto, o solo está sempre úmido, pois as baixas temperaturas inibem a evaporação.
Essas condições climáticas caracterizam duas regiões do planeta: (a) o Norte da América do Norte (Canadá e Alasca); e (b) o Norte da Europa e da Ásia.
D. Savana
A savana é caracterizada pela presença de um estrato denso e quase contínuo de vegetação herbácea (gramíneas, ciperáceas e plantas afins), entremeado por vegetação arbórea.
Os climas sob o qual esse bioma prospera são quentes e relativamente úmidos. A temperatura anual é igual ou superior 18º C. A pluviosidade anual gira em torno de 1.000 mm ou mais. As médias mensais variam muito, principalmente as da pluviosidade, com verões quentes e úmidos alternando com invernos quentes e secos. A densidade do extrato arbóreo costuma variar de acordo com o rigor e a duração (de 3 a 8 meses) da estação seca. No inverno, com a diminuição acentuada no volume de chuvas e a manutenção de temperatura elevadas, as camadas superficiais do solo passam por um período mais ou menos prolongado de déficit hídrico.
Essas condições climáticas caracterizam três regiões do planeta: (a) o Centro-Oeste e o interior do Nordeste brasileiro; (b) a África meridional (com exceção da bacia do Congo e do extremo Sul); e (c) o Norte da Austrália.
E. Campo
O campo (= campina, pampa, pradaria ou estepe) é caracterizado pela presença de um estrato denso e contínuo de vegetação herbácea (gramíneas, ciperáceas e afins), naturalmente desprovida de árvores.
Os climas sob o qual esse bioma prospera são frios e secos. A temperatura média anual varia entre -10 e 10º C. A pluviosidade anual em geral é inferior a 500 mm. As médias mensais variam bastante ao longo do ano: verões quentes ou brandos e úmidos alternam com invernos frios e secos. A pluviosidade pode oscilar bastante de um ano para o outro, caracterizando o clima como particularmente variável e incerto no curto prazo.
Essas condições climáticas caracterizam quatro regiões do planeta, duas em cada hemisfério. No hemisfério Norte: (a) o Centro-Oeste da América do Norte; e (b) a Ásia Central. No hemisfério Sul: (c) o Centro-Sul da América do Sul; e (d) a borda oriental do extremo Sul da África.
F. Tundra
A tundra (ou planície pantanosa) é caracterizada pela presença de um estrato descontínuo de vegetação herbácea. A vegetação está concentrada em moitas mais ou menos esparsas, as quais podem abrigar alguns arbustos.
Os climas sob os quais prospera esse bioma são muito frios e secos. A temperatura média anual é sempre negativa, variando entre -15 e -5° C. A pluviosidade anual é inferior a 200 mm. As médias mensais variam bastante, de tal modo que invernos longos e rigorosos alternam com verões curtos e brandos.
Uma espessa camada do solo (permafrost), situada em geral a apenas alguns centímetros da superfície, permanece congelada o ano inteiro, inclusive no verão. Essa camada, que pode ter centenas de metros de espessura, funciona como uma dupla barreira, impedindo tanto a penetração das raízes como a infiltração da água. Esta fica então acumulada acima do permafrost, umedecendo ou encharcando as camadas superficiais do solo.
Essas condições climáticas caracterizam duas grandes regiões do planeta: (a) o Norte da América do Norte, incluindo a Groenlândia; e (b) o extremo Norte da Europa e o Norte da Ásia. Essas regiões estão acima da latitude 60º N, dentro do chamado círculo polar ártico.
G. Deserto
Os desertos podem ser quentes ou frios. Em ambos, a vegetação permanente é escassa ou inexiste. No que segue, vamos tratar apenas dos desertos quentes.
Os climas sob o quais esse bioma prospera são quentes e secos. A temperatura média anual é superior a 18º C. A precipitação anual é baixa (quase sempre inferior a 250 mm) e errática. A variação sazonal é relativamente pequena, exceto pela concentração dos dias de chuva, que geralmente caem durante o inverno. Embora a temperatura do ar varie relativamente pouco ao longo do ano, há uma acentuada oscilação diária: de 40º C ao meio-dia a 15º C ou menos durante a noite. (A oscilação da temperatura na areia é ainda maior, indo de mais de 60º C durante o dia a cerca de 0º C durante a noite.) Em alguns desertos, o regime de chuvas é supraanual – i.e., a queda de chuvas ocorre a intervalos superiores a um ano. O solo em geral é arenoso, estando em permanente estado de déficit hídrico.
Essas condições climáticas caracterizam seis regiões do planeta, três em cada hemisfério, todas nas proximidades da latitude de 30º (N ou S). No hemisfério Norte: (a) Sudoeste dos EUA e Noroeste do México; (b) norte da África; e (c) Oriente Médio. No hemisfério Sul: (d) borda ocidental da América do Sul (Chile e Peru); (e) pequena borda ocidental no Sul da África (Namíbia); e (f) grande parte do interior da Austrália.
Zonação altitudinal
Os sete tipos mencionados acima nem sempre são fácil e prontamente reconhecíveis. Isso porque às vezes nos defrontamos com algumas complicações, como as zonas de transição ou a presença de manchas isoladas de um bioma dentro dos domínios de outro. Um modo de intrusão particularmente comum é a reprodução dos padrões latitudinais em gradientes altitudinais.
Em grandes elevações montanhosas, costuma ocorrer uma zonação equivalente àquela que observamos à medida que nos deslocamos desde a zona equatorial até os pólos [5]: vegetação arbórea latifoliada e sempre verde dá lugar a florestas decíduas; estas são então substituídas por uma vegetação do tipo savânica ou, dependendo do lugar, por árvores de folhas aciculares. A depender das dimensões da montanha, o padrão de substituição pode ir além, dando em seguida origem a uma vegetação inteiramente herbácea (campo ou tundra, dependendo do lugar) e a um topo praticamente desértico.
Em regiões próximas à linha do equador, por exemplo, a floresta ombrófila que prospera no sopé da montanha tende a ser substituída (em pontos acima de 1.000 m) por uma vegetação mais aberta, com predomínio crescente de plantas de pequeno porte: a floresta fechada dá lugar a uma paisagem savânica, esta podendo vir a ser substituída por uma vegetação exclusivamente herbácea, desprovida de árvores.
Quantos biomas existem no país?
Dos sete biomas descritos acima, três – e apenas três – ocorrem em terras brasileiras: floresta ombrófila, savana e campo.
Salvo melhor juízo, no entanto, nenhum dos livros didáticos disponíveis hoje no mercado adota uma classificação tão enxuta e, ao mesmo tempo, tão consistente. O que ocorre é que os autores contemporâneos tratam como ‘biomas’ aquilo que os autores do passado costumavam caracterizar como ‘paisagens regionais típicas’ [6].
Um exame ligeiro revela o tamanho da confusão: a depender do autor ou da editora, o número de ‘biomas’ varia desde um mínimo de cinco (floresta amazônica, cerrado, floresta atlântica, caatinga e campo sulino) ou seis (os cinco anteriores, mais o pantanal) até oito (os seis anteriores, mais a restinga e a mata de cocais) ou mais.
Visando contornar essas inconsistências, caberia aqui dizer que a ‘paisagem original’ do país incluía [7]: (1) 61% de florestas do tipo ombrófila (47% de floresta amazônica, 14% de floresta atlântica), compostas por árvores altas, que em geral sustentam folhas o ano inteiro e crescem próximas entre si; (2) outros 37% de f. abertas ou vegetação do tipo savana (24% de cerrado, incluindo o pantanal mato-grossense, e 13% de caatinga), compostas por árvores baixas, que crescem afastadas umas das outras, de troncos retorcidos (cerrado) ou espinhentos (caatinga), e que em geral perdem as folhas na estação mais seca do ano; e (3) 2% de vegetação essencialmente herbácea (campo sulino), onde as árvores são naturalmente raras ou ausentes.
Para ajustar esses complexos vegetacionais à classificação mundial, bastaria ter em mente o seguinte: as florestas fechadas (floresta amazônica e floresta atlântica) correspondem ao bioma floresta ombrófila; as florestas abertas (cerrado, incluindo o pantanal, e caatinga), ao bioma savana; e o campo sulino, desprovido de árvores, ao bioma campo.
Coda
O conceito de bioma é necessariamente um conceito a ser usado em comparações intercontinentais, em larga escala. Alardear que o pantanal é um bioma ou que a caatinga é o único “bioma exclusivamente brasileiro”, como é costume na mídia e nos livros didáticos, é induzir o leitor a erros e mal-entendidos.
Há termos mais apropriados quando se quer fazer alusão a padrões de vegetação mais localizados (intracontinentais ou regionais). Um deles é o termo ecorregião [8].
Mas há problemas adicionais a corrigir. Como a profunda assimetria em nosso conhecimento a respeito de diferentes ecorregiões. (Basta dizer o seguinte: o que sabemos a respeito da floresta atlântica é bem superior ao que conhecemos a respeito do cerrado, da caatinga etc.)
E a falta de conhecimento apropriado, como todos nós já sabemos, leva a generalizações grosseiras. Por trás do rótulo caatinga, por exemplo, o que encontramos não é um padrão vegetacional único e homogêneo [9], como alguns autores ainda hoje dão a entender. Assim como acontece em outras regiões de tamanho equivalente, a caatinga é um mosaico dos mais heterogêneos. Mas essa já seria outra conversa…
*
Notas
[*] Versão anterior deste artigo foi publicada no
Observatório da Imprensa, em 25/3/2014. O autor está a lançar O que é darwinismo (2019) – ver
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui,
aqui e
aqui. No âmbito do universo acadêmico, o livro deverá ser objeto de resenhas em revistas técnicas. Todavia, dificilmente será objeto de algum tipo de registro na grande impressa. Infelizmente, portanto, permanecerá invisível a muitos leitores brasileiros. (Há motivos para isso – nenhum deles tendo necessariamente a ver com o conteúdo da obra –, mas o mais curioso deles talvez seja o seguinte: o autor não tem cacife financeiro para distribuir exemplares de cortesia entre colegas jornalistas, editores, professores universitários, formadores de opinião etc.) Para detalhes e informações adicionais sobre o livro, inclusive sobre o modo de aquisição por via postal, faça contato com o autor pelo endereço
meiterer@hotmail.com. Para conhecer outros artigos e livros, ver
aqui.
[1] Para exemplos, detalhes e comentários adicionais, ver Walter (1986).
[2] Para detalhes técnicos e exemplos, ver Costa (2019).
[3] Tais diferenças, no entanto, nem sempre são definitivas. O que muitas vezes ocorre é um equilíbrio dinâmico. Para uma discussão, ver Accatino et al. (2010).
[4] Para detalhes e comentários adicionais, ver McNaughton & Wolf (1984).
[5] Descoberto pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt (1769-1859), o fenômeno da zonação altitudinal é particularmente notável em grandes elevações montanhosas. Sobre a vida e obra de Humboldt, v. Wulf (2016).
[6] Sobre os grandes complexos vegetacionais do país, ver Eiten (1992); para comentários e detalhes adicionais, ver Rizzini (1997).
[7] Percentuais extraídos de Costa (2014).
[8] Para detalhes técnicos e exemplos, ver Omernik (2004).
[9] Para detalhes e comentários adicionais, ver Egler (1951) e Andrade-Lima (1981).
*
Referências citadas
** ACCATINO, F & mais 4. 2010. Tree-grass co-existence in savanna: interactions of rain and fire. Journal of Theoretical Biology 267: 235-42.
** ANDRADE-LIMA, D. 1981. The caatingas dominium. Revista Brasileira de Botânica 4: 149-63.
** CLEMENTS, FE & SHELFORD, VE. 1939. Bio-ecology. NY, Wiley.
** COSTA, FAPL. 2014. Ecologia, evolução & o valor das pequenas coisas, 2ª ed. Viçosa, Edição do autor.
—. 2019. O que é darwinismo. Viçosa, Edição do autor.
** EGLER, WA. 1951. Contribuição ao estudo da caatinga pernambucana. Revista Brasileira de Geografia 13: 65-77.
** EITEN, G. 1992. Natural Brazilian vegetation types and their causes. Anais da Academia Brasileira de Ciências 64 (Supl.): 35-65.
** GIVNISH, TJ. 2002. Adaptive significance of evergreen vs. deciduous leaves: solving the triple paradox. Silva Fennica 36: 703-43.
** McNAUGHTON, SJ & WOLF, LL. 1984. Ecología general, 2ª ed. Barcelona, Omega.
** OMERNICK, JM. 2004. Perspectives on the nature and definition of ecological regions. Environmental Management 34 (Suppl. 1): S27-S38.
** RIZZINI, CT. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil, 2ª ed. RJ, Âmbito Cultural.
** WALTER, H. 1986. Vegetação e zonas climáticas. SP, EPU.
** WEAVER, JE & CLEMENTS, FE. 1938. Plant ecology, 2nd ed. NY, McGraw-Hill.
** WULF, A. 2016. A invenção da natureza. SP, Crítica.