QUESTÃO 21 Em meio às tensões geopolíticas no Leste Europeu, um país-membro da OTAN anunciou aumento significativo nos gastos militares, destinando cerca de 4% do seu PIB à defesa, o maior percentual entre os países da aliança. Localizado próximo à fronteira com a Rússia, esse país tem buscado reforçar sua capacidade bélica como medida de dissuasão estratégica. O país descrito é:
(A) Noruega
(B) Alemanha
(C) França
(D) Polônia
(E) Espanha
QUESTÃO 22 De acordo com o Censo Demográfico de 2022 (IBGE), entre as unidades da federação do Nordeste, apenas um Estado apresentou Taxa Líquida de Migração positiva, com saldo de 31 mil pessoas e índice de 0,78%, o primeiro resultado positivo desde 1991. Esse Estado foi:
(A) Rio Grande do Norte
(B) Ceará
(C) Pernambuco
(D) Bahia
(E) Paraíba
QUESTÃO 23 O fluxo migratório de brasileiros para o exterior tem se intensificado nas últimas décadas, motivado por fatores econômicos, educacionais e de qualidade de vida. Entre os destinos mais procurados, destaca-se um país que abriga a maior comunidade brasileira fora do Brasil, com alta concentração em áreas urbanas, inserção no mercado de serviços e presença significativa de jovens adultos. O País que mais abriga brasileiros no exterior é:
(A) Portugal
(B) Estados Unidos
(C) Japão
(D) Canadá
(E) Reino Unido
QUESTÃO 24 O desmatamento no Cerrado tem sido intensificado pelo avanço da fronteira agrícola, especialmente no MATOPIBA. Essa sigla designa o território de expansão agropecuária situado nos estados:
(A) Mato Grosso, Amapá, Piauí e Bahia.
(B) Mato Grosso, Tocantins, Pará e Bahia.
(C) Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás e Bahia.
(D) Maranhão, Tocantins, Pernambuco e Alagoas.
(E) Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
QUESTÃO 25 O território brasileiro, situado majoritariamente na zona tropical, apresenta grande diversidade climática em razão de sua extensão e relevo. O tipo de clima típico do Sertão nordestino, caracterizado por altas temperaturas, baixa umidade e chuvas escassas e irregulares, é o:
(A) Tropical úmido.
(B) Equatorial.
(C) Semiárido.
(D) Subtropical.
(E) Tropical de altitude.
QUESTÃO 26 A teoria da isostasia explica o equilíbrio vertical da litosfera sobre o manto subjacente. Esse equilíbrio é comparável a um corpo flutuando sobre um fluido, em que variações de massa e densidade condicionam movimentos verticais da crosta. Assinale a alternativa que melhor expressa o princípio físico dessa teoria.
(A) Lei da gravitação universal
(B) Princípio da ação e reação
(C) Lei da inércia
(D) Teoria da deriva continental
(E) Princípio de Arquimedes
QUESTÃO 27 Em regiões semiáridas, é comum encontrar rios que apresentam escoamento apenas durante a estação chuvosa, permanecendo secos no restante do ano. Esses cursos d’água são denominados:
(A) intermitentes
(B) perenes
(C) exorreicos
(D) endorreicos
(E) estacionais
QUESTÃO 28 Em setembro de 2025, o Nepal foi palco de intensos protestos após o governo impor a proibição de 26 plataformas de redes sociais, medida que levou milhares de jovens às ruas em defesa da liberdade de expressão e contra a corrupção. O movimento, marcado pelo uso de meios digitais para organização e mobilização, resultou na renúncia do primeiro-ministro K. P. Sharma Oli, na nomeação de um governo interino e na convocação de novas eleições. O grupo geracional que protagonizou tal movimento foi:
(A) Geração X
(B) Baby Boomers
(C) Geração Y (Millennials)
(D) Geração Z
(E) Geração Alfa
QUESTÃO 29 Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades e de não sofrer discriminação. Sobre a plena capacidade civil, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Casar-se e constituir união estável é direito da pessoa com deficiência.
(B) Exercer direitos sexuais e reprodutivos é garantido em igualdade de condições com as demais pessoas.
(C) Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar é direito assegurado.
(D) A esterilização compulsória é permitida mediante autorização judicial e laudo médico especializado. (E) Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas é direito da pessoa com deficiência.
QUESTÃO 30 Nas disputas tecnológicas entre as grandes potências, os Estados Unidos impuseram restrições à exportação de microchips e equipamentos de alta tecnologia para a China, buscando limitar o avanço de sua indústria de semicondutores. Em resposta, o governo chinês adotou medidas de controle sobre a exportação de um conjunto de minerais essenciais à fabricação desses mesmos componentes, dos quais o país detém as maiores reservas e capacidade produtiva mundial. Os recursos estratégicos em questão são:
(A) Petróleos
(B) Gases naturais
(C) Cobres
(D) Terras raras
(E) Lítios
QUESTÃO 32 O vulcanismo é um processo geológico associado à liberação de magma proveniente do interior da Terra. Esse fenômeno tende a ocorrer com maior frequência:
(A) nas zonas de estabilidade tectônica, onde as placas estão em equilíbrio.
(B) nas bordas de placas divergentes e convergentes, onde há intensa atividade interna.
(C) nas regiões de planícies sedimentares, devido à pressão das camadas superficiais.
(D) nos pontos centrais das placas oceânicas, onde não há movimentação crustal.
(E) nas áreas de maior altitude, independentemente da estrutura tectônica.
QUESTÃO 33 No ensino de Geografia, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são instrumentos essenciais para o desenvolvimento do pensamento espacial. Entre os recursos técnicos aplicáveis à análise e representação do espaço geográfico, destacam-se:
(A) Produção artesanal de mapas digitais.
(B) Portfólios digitais e avaliações descritivas.
(C) Softwares de texto e planilhas eletrônicas.
(D) Jogos lúdicos sem base cartográfica.
(E) SIG, sensoriamento remoto e geoprocessamento.
QUESTÃO 34 O território, na perspectiva da Geografia crítica, é compreendido pela:
(A) homogeneidade natural e ausência de conflitos.
(B) simples delimitação cartográfica de uma superfície terrestre.
(C) relação de poder e controle exercida sobre um espaço.
(D) distribuição regular da população em áreas urbanas.
(E) neutralidade política das fronteiras espaciais.
QUESTÃO 35 O BRICS constitui um agrupamento interestatal que visa fortalecer a cooperação econômica, política, científica e tecnológica entre as principais economias emergentes, com o objetivo de promover maior equilíbrio na governança global e reduzir a assimetria de poder nas instituições internacionais. Em sua fase recente, o bloco anunciou um processo de ampliação, convidando novos países a integrar-se formalmente, embora nem todos tenham consolidado sua adesão. Na configuração compreendido até o início de 2025, o único membro pleno da América Latina é:
(A) Argentina
(B) México
(C) Chile
(D) Brasil
(E) Venezuela
QUESTÃO 37 Os componentes físico-naturais do espaço geográfico compreendem elementos como:
(A) relevo, clima, vegetação, hidrografia e solo.
(B) população, economia, política e cultura.
(C) fluxos comerciais, fronteiras e redes de transporte.
(D) instituições, linguagens e tradições simbólicas.
(E) infraestrutura, urbanização e industrialização.
QUESTÃO 38 Entre 30° e 60° de latitude, o ar proveniente das zonas subtropicais de alta pressão desloca-se em direção aos polos, encontrando-se com o ar frio das regiões polares. Essa convergência cria sistemas de baixa pressão e gera correntes de oeste que influenciam o tempo nas latitudes médias. Assinale a alternativa que corresponde a essa célula da circulação atmosférica global.
(A) Célula de Hadley
(B) Célula de Ferrel
(C) Célula Polar
(D) Célula Intertropical
(E) Célula Subtropical
QUESTÃO 39 Processo de transformação do relevo associado ao movimento das águas correntes, responsável pela esculturação de vales e formação de planícies aluviais, além do transporte e deposição de sedimentos ao longo dos rios. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de dinâmica descrita.
(A) Dinâmica gravitacional
(B) Dinâmica glacial
(C) Dinâmica eólica
(D) Dinâmica marinha
(E) Dinâmica fluvial
QUESTÃO 40 Desde a primeira eleição de Emmanuel Macron (2017), o presidente nomeou seis primeirosministros diferentes — Edouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier e François Bayrou — e, com a nomeação de Sébastien Lecornu em 9 de setembro de 2025, chegou ao sétimo. A França, desde a promulgação da Constituição de 1958, vive sob a chamada Quinta República, marcada por um modelo semipresidencialista que combina um Presidente da República com amplos poderes e um Primeiro-Ministro responsável perante o Parlamento. O sistema eleitoral francês passou por reformas importantes, como o referendo de 2000, que reduziu o tempo de mandato presidencial. Com base nas disposições constitucionais francesas em vigor, assinale a alternativa correta:
(A) O Presidente francês é eleito por sufrágio direto para um mandato de quatro anos, com possibilidade de recondução, ilimitada.
(B) O mandato presidencial na França tem duração de cinco anos, e o chefe de Estado pode exercer até dois mandatos consecutivos.
(C) O Chefe de Estado é designado pelo Parlamento após consulta ao Conselho Constitucional.
(D) O cargo de Presidente é rotativo entre as regiões, de modo a garantir representação territorial.
(E) O sistema eleitoral francês é majoritário e indireto, semelhante ao modelo norte-americano.
QUESTÃO 41 Rios que mantêm escoamento contínuo ao longo de todo o ano, independentemente da sazonalidade pluviométrica, recebem a denominação de
(A) efêmeros
(B) intermitentes
(C) perenes
(D) exorreicos
(E) endorreicos
QUESTÃO 42 Segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, “Em 2022, do total de 203,1 milhões de pessoas da população brasileira, 177,5 milhões (87,4%) residiam em áreas urbanas, enquanto 25,6 milhões viviam em áreas rurais.” (Agência IBGE Notícias) À luz das informações fornecidas, indique a alternativa correta:
(A) O Brasil tornou-se predominantemente rural, com mais da metade da população vivendo fora das cidades.
(B) A proporção de moradores urbanos em 2022 comprova a continuidade do processo de urbanização no país.
(C) Entre 2010 e 2022, o percentual de população urbana reduziu, revelando tendência à reocupação do campo.
(D) A população rural brasileira ultrapassou 30% do total, indicando reversão do êxodo rural.
(E) O IBGE passou a considerar como área urbana os perímetros definidos por cada município, com ausência de mudanças conceituais.
QUESTÃO 43 A Mata Atlântica sofreu forte degradação em função da ocupação histórica do território brasileiro. Entre os principais fatores antrópicos responsáveis pela fragmentação de seus remanescentes, destaca-se:
(A) a ausência de políticas de reflorestamento desde o período colonial brasileiro.
(B) a baixa fertilidade natural dos solos e a presença de relevo escarpado.
(C) a predominância de solos lateríticos e a elevada pluviosidade anual.
(D) a escassez de cursos d’água perenes em sua faixa litorânea.
(E) a expansão agropecuária e urbana sobre áreas originalmente florestadas.
QUESTÃO 44 Na ordem econômica mundial contemporânea, observa-se a persistência de assimetrias entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sobretudo no acesso a mercados, tecnologia e financiamento. Diante disso, o Brasil tem buscado consolidar uma posição que combine soberania nacional com integração global. Assinale a alternativa que expressa uma das principais demandas do Brasil no sistema econômico internacional.
(A) Manutenção de barreiras tarifárias nos países desenvolvidos para proteger as exportações brasileiras de commodities.
(B) Redução das políticas de transferência tecnológica para fortalecer a dependência econômica do Sul Global.
(C) Ampliação da representatividade de países emergentes em organismos multilaterais como FMI e OMC.
(D) A realização de comércio Sul-Sul, priorizando acordos, tão somente, com países centrais deste espectro.
(E) Subordinação das políticas econômicas nacionais às diretrizes financeiras do G7.
QUESTÃO 45 A fragmentação das rochas e a redistribuição de materiais superficiais envolvem mecanismos distintos de atuação dos agentes exógenos. O processo de desagregação da rocha transformando-a em material descontínuo e friável, é denominado:
(A) Sedimentação fluvial
(B) Intemperismo químico
(C) Erosão laminar
(D) Transporte coluvial
(E) Intemperismo físico
QUESTÃO 46 A desigualdade geracional refere-se às disparidades de acesso a recursos, oportunidades e condições de vida entre diferentes faixas etárias. Ela pode ser observada na inserção no mercado de trabalho, na renda, no acesso à tecnologia e à previdência social. Assinale a alternativa que melhor exemplifica a desigualdade geracional no cenário econômico brasileiro.
(A) Jovens com alto nível de escolaridade alcançando remuneração superior à média nacional logo após ingressarem no mercado de trabalho.
(B) A ampliação do acesso de idosos a cursos de qualificação profissional oferecidos por políticas públicas municipais.
(C) Adultos com idade intermediária (30–50 anos) apresentando estabilidade ocupacional e renda crescente ao longo da carreira.
(D) Jovens enfrentando maior taxa de desemprego e informalidade, enquanto idosos mantêm estabilidade previdenciária e patrimonial.
(E) A universalização do ensino básico reduzindo as diferenças de escolarização entre gerações distintas.
QUESTÃO 47 As isotermas representam, nos mapas climáticos, linhas que:
(A) separam áreas sob influência de massas frias.
(B) indicam áreas de igual pressão atmosférica.
(C) delimitam zonas de igual umidade relativa.
(D) unem pontos de mesma temperatura média.
(E) marcam o limite entre correntes quentes e frias.
QUESTÃO 48 Associe corretamente cada princípio do raciocínio geográfico à sua descrição.
1 - Analogia
2 - Conexão
3 - Diferenciação
4 - Distribuição
( ) Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes.
( ) É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre, resultando na diferença entre áreas.
( ) Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.
( ) Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros.
A identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre.
(A) 2 – 4 – 1 – 3
(B) 3 – 1 – 2 – 4
(C) 2 – 3 – 4 – 1
(D) 4 – 2 – 3 – 1
(E) 1 – 2 – 3 – 4
QUESTÃO 49 O conceito de espaço geográfico, conforme a base nacional curricular, deve ser trabalhado de forma articulada com outro conceito igualmente essencial, considerado uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Trata-se de:
(A) Natureza
(B) Bioma
(C) Tempo
(D) Clima
(E) Terremoto
QUESTÃO 50 Os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e a sua representação. Essa proporção é indicada pela escala, que expressa a relação entre a medida do espaço real e sua medida no mapa. A ___________ indica essa relação por meio de uma proporção expressa em números, como em “1:100 000”, enquanto a ____________ é uma linha graduada que representa graficamente as distâncias correspondentes no terreno, dispensando cálculos de conversão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, respectivamente:
(A) escala gráfica / escala numérica
(B) escala local / escala regional
(C) escala numérica / escala gráfica
(D) escala topográfica / escala planimétrica
(E) escala grande / escala pequena
Gabarito:





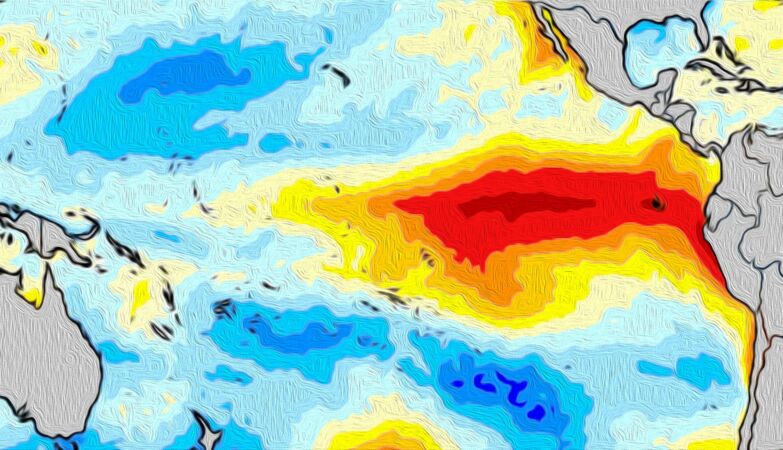

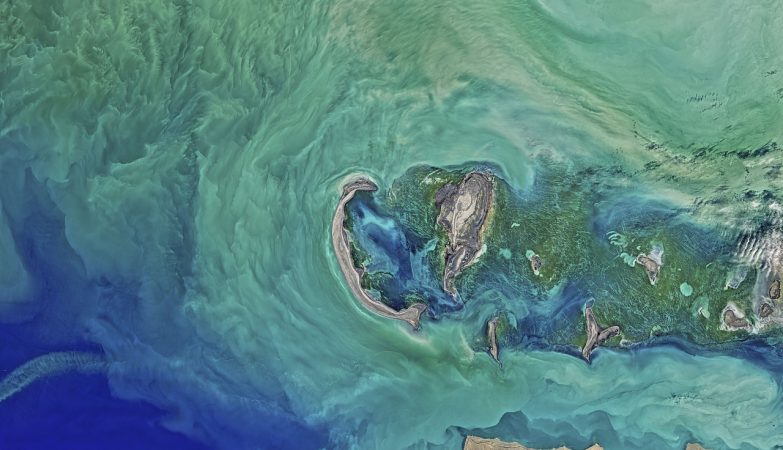






 Pesquisa propôs a criação do Índice de Priorização das Estradas Vicinais, ferramenta que indica as prioridades de investimento e intervenção em cada região do Brasil - Foto:
Pesquisa propôs a criação do Índice de Priorização das Estradas Vicinais, ferramenta que indica as prioridades de investimento e intervenção em cada região do Brasil - Foto: 








